
BRASIL-EUROPA
REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA
EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS

BRASIL-EUROPA
REFERENCIAL DE ANÁLISES CULTURAIS DE CONDUÇÃO MUSICOLÓGICA
EM CONTEXTOS, CONEXÕES, RELAÇÕES E PROCESSOS GLOBAIS
Antonio Alexandre Bispo
Expressões de arte melodramática, declamações e recitativos acompanhados ao piano não podem deixar de ser considerados nos estudos culturais do século XIX, também naqueles voltados ao Brasil. Alguns aspectos de pesquisas e reflexões das últimas décadas devem ser recordados em época na qual as atenções se dirigem ao século XIX por motivo do bicentenário de nascimento de D. Pedro II (1825-1891).O significado dessa temática surge a princípio como paradoxal, uma vez que Pedro II poderia ser visto como uma das personalidades da história política e político-cultural menos melodramáticas ou patéticas de um século que se apresenta como melodramático em sentidos extensos do conceito.
Embora pouco estudadas e mesmo vistas com reservas, consideradas como questionáveis do ponto de vista estético, ultrapassadas, declamações ao piano merecem especial atenção sob diferentes aspectos, da literatura, das artes cênicas, da música, da retórica, da comunicação e da performance, assim como dos estudos sociais e sócio-psicológicos. São assim de grande relevância para estudos culturais que procuram superar categorizações, modos de pensar e ver em compartimentos, de separar áreas de expressão e de objetos de estudos. O seu tratamento é assim necessariamente inter-e transdisciplinar.
A atenção à arte melodramática, a declamações e recitativos acompanhados por música foi despertada na década de 1960 em São Paulo a partir de sua percepção crítica por parte de jovens estudantes de música, professores e pesquisadores de orientação progressista, empenhados na renovação de estudos musicais e culturais. Em anos marcados pela introdução de cursos superiores de música, de elevação de conservatórios a faculdades, passou-se a questionar currículos, conteúdos de matérias teóricas, programas e práticas. A declamação, curso oferecido em vários conservatórios, passou a ser discutida.
A arte declamatória, no ensino e em apresentações, constava sobretudo de recitações acompanhadas ao piano, nas quais textos poéticos interpretavam sonoramente imagens e emoções. Movimentos, mímica e gestos dos declamadores, preparados para expressar o conteúdo, as emoções e as imagens transmitidas nos textos de modo a causar efeito sobre os ouvintes e espectadores, movendo-os internamente, surgiam como por demais patéticos. Aulas e recitais de declamação passaram a ser sentidos como deslocados no tempo, ridículos, hilariantes.
A desvalorização da arte declamatória e da prática de recitativos ao piano em instituições de ensino musical na década de 1960 correspondeu a um espírito do tempo que, em particular da juventude universitária, foi marcado por uma aversão a expansões verbosas, a exageros retóricos, pela limitação da comunicação oral a poucas palavras, expressões populares e gírias.
O distanciamento crítico perante o pathos declamatório, que levou à supressão da matéria, de cursos e a apresentações de recitativos ao piano em audições, representou uma mudança de concepções do ensino da música nas suas relações com a arte dramática. Essas relações expressavam-se na denominação de conservatórios como dramáticos e musicais, salientando-se, em São Paulo, o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Essas relações tinham determinado programas de estudos, justificado a inclusão de determinadas matérias, de idiomas, com implicações em repertórios e mesmo na criação artística e musical. Há muito a referência ao dramático na denominação desses conservatórios tinham perdido gradualmente o seu sentido por neles não se oferecerem mais cursos mais especificamente de teatro ou arte cênica.
A atenção às relações entre a música e as artes cênicas no repertório e no ensino em São Paulo foi despertada no convívio com professores do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Estes traziam á consciência que, embora o conservatório fosse considerado em geral quase que exclusivamente como instituição de ensino musical, a sua denominação dizia respeito primordialmente à arte dramática. Ela expressava intenções que marcaram as suas origens, concepções e anelos de personalidades como aqueles d membros da família Gomes Cardim. Ela lembrava que o conservatório foi criado no mesmo contexto epocal que o Teatro Municipal, tendo sido em princípio pensado em ser nele instalado.
Esse desígnio do conservatório não podia ser esquecido nos estudos histórico-culturais e -musicais de São Paulo. Nos seus sentidos mais abrangentes, a dimensão melodramática teria marcado não só o conservatório na sua história, como também a configuração urbana do centro de São Paulo, a esplanada do Teatro Municipal e o parque do Anhangabaú. Essas reflexões, no seu significado para análises urbanológicas da função cultural do Anhangabaú foram encetadas em estudos conduzidos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Tiveram a sua expressão em concerto realizado no Salão Gomes Cardim do conservatório no âmbito do Festival da Nova Difusão com o apoio do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo e em colaborações com estudantes de arquitetura em 1970.
Essa mudança de concepções passou a ser objeto de reflexões, de considerações sobre a história dessas relações entre a arte dramática e a música. No âmbito de estudos de história da música, tomou-se consciência do significado do melodrama na vida e na criação musical dos séculos XVIII e XIX. Lembrou-se que compositores de projeção supranacional dedicaram-se ao gênero, como, entre outros, Franz Schubert (1797-1828) com a sua "arpa encantada" (Die Zauberharfe), de 1820. Essa obra, composta em anos que foram, no Brasil, marcados pelas decorrências que levaram à Independência, motivou a consideração da prática do melodrama, de declamações e de recitativos ao piano no século XIX. Expressões melodramáticas podiam ser constatadas em obras de compositores de décadas posteriores, também na produção musical de compositores de música ligeira que tiveram grande difusão, podendo-se lembrar do nome de Franz von Suppé (1819-1895).
O tema surgiu como relevante sobretudo em círculos ítalo-brasileiros, onde o interesse por estudos da ópera era particularmente acentuado. Em várias óperas pode-se constatar partes de natureza melodramática, entre elas naquelas de autores brasileiros como Antonio Carlos Gomes (1836-1896), como considerado em estudos desenvolvidos no Conservatório Musical Carlos Gomes de São Paulo.
O melodrama, as declamações e recitativos ao piano do século XIX e suas permanências no XX suscitaram questionamentos estéticos. Estes foram considerados em debates sobre o Kitsch em cursos de Estética e em iniciativas estudantis. O Kitsch foi refletido sob o aspecto dos riscos decorrentes de discordâncias de forma e conteúdo, de falsidade e hipocrisia, problemas não apenas estéticos, mas éticos e mesmo políticos e político-culturais. Na situação política de opressão da liberdade de expressão sob o regime militar da época, considerou-se que o único caminho viável para o desmascaramento e o da supressão do potencial de risco do Kitsch seria o de utilizar-se de seus próprios meios, o de tratá-lo de forma transversal e lúdica. Essas reflexões tiveram a sua expressão na constituição do grupo coral Faunos da Pauta de estudantes, e que explicitamente e de forma satirica designava-se como Coro e Companhia Lírica. Nas suas atuações o patético, o melodramático era acentuado, levando à paródia de textos e composições em apresentações e happenings.
Esses intentos e práticas exigiram o levantamento de fontes, o que foi realizado conjuntamente com músicos e membros do movimento Nova Difusão e de seu Centro de Pesquisas em Musicologia. Em pesquisas realizadas em arquivos e acervos particulares, pôde-se encontrar considerável número de composições que, sobretudo de autores do século XIX e início do XX.
Entre as obras encontradas, salientou-se um recitativo ao piano, de compositor não identificado, de título A Noite Tempestuosa. Esse recitativo provinha de cidades do vale do Paraíba, tendo sido estudado e praticado em Guaratinguetá na segunda metade do século XIX.
Noite tempestuosa
O céu das opacas sombras abafado,
Tornando mais medonha a noite feia,
Mugindo sobre as rochas, que salteia,
O mar em crespos montes levantado;
Desfeito em furações o vento irado;
Pelos ares zunindo a solta areia;
O pássaro nocturno que vozeia
No agoireiro ciprestes além pousado;
Formam quadro terrível, mas aceito,
Mas grato aos olhos meus, gratos à fereza
Do ciúme e saudade, a que ando afeito.
Quer no horror igualar-me a Natureza;
Porém cansa-se em vão, que no meu peito
Há mais escuridão, há mais tristeza.
O Recitativo ao piano A Noite Tempestuosa documenta o significado de cantoras e declamadoras na prática musical familiar e em saraus da sociedade. Documenta também o significado do piano na cultura musical doméstica e social, da literatura e da arte dramática em época de intenso interesse pela ópera e marcada pela construção de teatros e por representações teatrais.
De significado nessa fonte é o fato de ser a própria pianista a declamadora. Após uma introdução pianística, a intérprete passa a declamar o texto - Que tempo horrível, que noite escura… - acompanhando-o com figurações em colcheias com a mão direita. Em 3/4, a imagem e a sensação do tempo horrível e a escuridão da noite são expressos suavemente e tempo comedido. O desenvolvimento do recitado e da música corresponde ao texto que fala do cintilar furioso dos céus, tratados pelo compositor com ornamentos e conduções cromáticas.
A exclamação Noite mais negra é sublinhada com condução melódica em terças e a pungente expressão Eu neste leito é tratada em gradativo crescendo, culminando com trêmulos. Aqui revela-se que o ouvinte compartilha interiormente com a situação desesperadora daquele que se encontra acamado, doente, possivelmente em delírio, sendo que a noite escura, negra, o tempo horrível corresponde a seu estado de alma.
A consideração desse melodrama suscitou reflexões sobre as possibilidades e a problemática da hermenêutica.Trouxe-se à consciência que esta não pode ser arbitrária, no exemplo de interpretações literárias de obras instrumentais em guias de ouvintes de concertos, mas pertinentes e necessárias se conduzidas em obras que, como o recitado A Noite Tempestuosa, permitem procedimentos de análise poética.
Outro manuscrito levantado nas pesquisas no vale do Paraíba foi o Eu tenho ciúmes, recitativo ao piano que sugere ter sido praticado em cidades como Cunha, São Luís do Paraitinga, Lagoinhas, Parati e Bananal. Essa fonte, muito menos elaborada do que A Noite Tempestuosa, adquire significado por representar apenas uma fixação rudimentar em notação musical, de arpejos e figurações escalares que teriam sido antes improvisadas ao piano. Foi visto neste sentido como indicativo da prática de acompanhamento espontâneo por parte do pianista, comentando e interpretando a recitação.
Os estudos desenvolvidos no Brasil, que trouxeram à luz o significado do tema para uma musicologia orientada segundo processos culturais e, respectivamente, de estudos culturais conduzidos a partir da música, passou a ser considerado em âmbito internacional a partir de 1974. O assunto despertou interesses por vir ao encontro do reconhecimento da necessidade de reconsiderações do século XIX por parte de musicólogos alemães. A necessidade de revisões e redescobrimentos do século XIX na musicologia não se limitava à Europa, mas também a outras regiões do globo. A América Latina no século XIX era tema de projeto então em andamento no Instituto de Musicologia de Colonia, conduzido tanto sob aspectos histórico-musicais como etnomusicológicos. As fontes levantadas no Brasil levaram à consideração da arte melodramática nos seus diferentes aspectos em colóquios então realizados.
O século XIX foi século de extraordinários desenvolvimentos técnicos e científicos, da industrialização, de desenvolvimento de meios de transportes e comunicação, da teoria da Evolução, mas foi também o século do Historicismo, do Romantismo e da Restauração. Compreende-se, nesse quadro geral, o significado da música nas suas relações com as artes cênicas. O debate sobre relações entre o drama e a música, da música no drama e do drama na música, foi de particular atualidade em 1976, ano no qual as atenções se dirigiam a Richard Wagner (1813-1883) por motivo do Centenário da Casa de Festivais de Bayreuth, em cuja inauguração Dom Pedro II esteve presente.
Um marco no desenvolvimento desses estudos foi a consideração do melodrama no século XIX nos Dias da Música na cidade de Kassel em 1976 (Kassseler Musiktage). Essas jornadas focalizaram o século XIX na sua problemática para a pesquisa e a vida musical. Os debates partiram da constatação de uma situação paradoxal. Os programas de concertos e de ensino - assim como os estudos histórico-musicais - revelavam continuidades do século XIX no XX, sendo a vida de concerto marcada por permanências quanto a repertórios, práticas e concepções, repetindo-se sempre as mesmas óperas, obras orquestrais, composições para instrumentos e canto, para coros e música de câmara de alguns grandes compositores.
Muitas dessas obras e seus autores iam aos poucos caindo em esquecimento. Óperas que até há poucas décadas tinham sido celebradas passavam a ser raramente encenadas. Da obra de alguns grandes compositores apenas uma ou outra obra sobrevivia na vida musical e no ensino. A maior parte dos numerosos compositores do século XIX, suas obras, assim como gêneros e práticas de execução já tinham sido esquecidas ou eram ignoradas ou silenciadas. Tomar consciência dessa situação contraditória surgia como uma exigência para pesquisadores. Estes deviam tomar consciência de suas próprias inserções nesses processos.
Considerar o século XIX de forma mais abrangente e diferenciada, redescobrir compositores, obras, gêneros e práticas musicais e de ensino esquecidas impunha-se como um imperativo para a historiografia, para o tratamento adequado do Oitocentos na sua complexidade, pressuposto para a análise adequada de suas extensões e irradiações no XX.
O estudo do melodrama adquire particular significado sob o aspecto de uma musicologia de orientação teórico-cultural dirigida a processos, assim como de uma culturologia que tem a música como motivo condutor. O melodrama ultrapassa delimitações de esferas categorizadas das artes, dizendo respeito à poesia, às artes cênicas e á música e suas interações.
O seu estudo é fundamentalmente inter- e transdisciplinar, podendo ser conduzido a partir sob perspectiva literária, dramática, musical ou a partir de outros princípios condutores de análises. O texto falado, recitado ou declamado é sublinhado, comentado ou emoldurado por música e a expressão do conteúdo poético, literário, da movimentação interior do declamador determina a performance.
O melodrama exige ser considerado sob critérios literários quanto a estilos e sentidos nas suas inserções epocais e de contextos sócio-culturais, sob critérios de expressão de sentimentos vivenciados interiormente e de sua transmissão e efeitos, Exige ser considerado sob o aspecto de sua realização e da movimentação do interior daqueles o presenciam.
A sua consideração é de significado social e sócio-psicológico. Diferenciando-se do drama, o declamador não recita a tragédia de um herói no combate com forças maiores, mas expressa antes abalos pessoais, circunstâncias imprevistas. golpes do destino. A atenção ao melodrama como gênero e prática lítero-dramático-musical dirige a atenção de forma mais abrangente ao melodramático em outras expressões artísticas, a cenas melodramáticas em óperas, no teatro e mesmo sob outros aspectos na vivência pessoal, da existência, em visões da realidade, comportamentos, até mesmo de narrativas, interpretações e de procedimentos dos próprios pesquisadores.
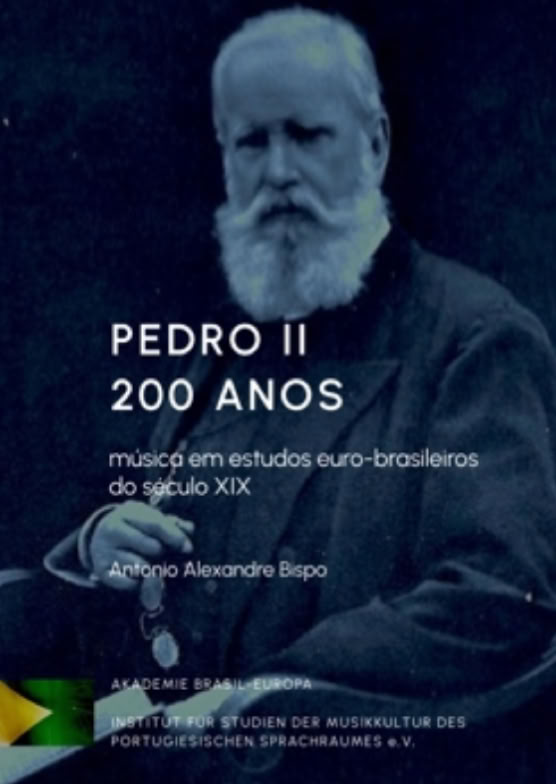
Este texto é extraido da publicação
Antonio Alexandre Bispo. Pedro II 200 Anos. Música em estudos euro-brasileiros do século XIX. Gummersbach: Akademie Brasil-Europa & Institut für Studien der Musikkultur des portugiesischen Sprachraumes e.V.
416 páginas. Ilustrações. (Série Anais Brasil-Europa de Ciências Culturais)
Impressão e distribuição: tredition. Ahrensberg, 225.
ISBN 978-3-384-68111-9
O livro pode ser adquirido aqui
